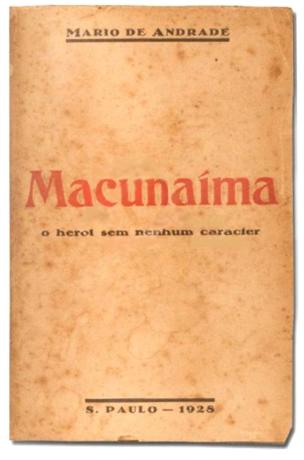Da página Revista PROSA VERSO & ARTE
“Carpe diem”
– por Antônio Cícero (*)
Um dos poemas mais famosos do poeta romano Horácio é a ode 1.11. Nela, dirigindo-se a uma personagem feminina, Leucônoe, o poeta lhe diz que não procure adivinhar o futuro:
Não interrogues, não é lícito saber a mim ou a ti
que fim os deuses darão, Leucônoe. Nem tentes
os cálculos babilônicos. Antes aceitar o que for,
quer muitos invernos nos conceda Júpiter, quer este último
apenas, que ora despedaça o mar Tirreno contra as pedras
vulcânicas. Sábia, decanta os vinhos, e para um breve espaço de tempo
poda a esperança longa. Enquanto conversamos terá fugido despeitada
a hora: colhe o dia, minimamente crédula no porvir.
[Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati.
seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, vina liques, et spatio brevi
spem longam reseces. dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem quam minimum credula postero.]
A frase “carpe diem” tornou-se um aforismo epicurista e um tema poético a que inúmeros poetas recorrem.
No Brasil, por exemplo, Gregório de Matos, imitando um famoso poema de Góngora, diz, em soneto dedicado a uma “discreta e formosíssima Maria“:
Discreta e formosíssima Maria,
Enquanto estamos vendo a qualquer hora
Em tuas faces a rosada Aurora,
Em teus olhos e boca o Sol, e o Dia:
Enquanto com gentil descortesia
O ar, que fresco Adônis te namora,
Te espalha a rica trança voadora,
Quando vem passear-te pela fria:
Goza, goza da flor da mocidade,
Que o tempo trata a toda ligeireza
E imprime em toda flor sua pisada.
Ó não aguardes que a madura idade
Te converta essa flor, essa beleza,
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.
O soneto mencionado de Góngora, uma obra-prima, é o seguinte:
Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello;
goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,
no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
O poeta Mário Faustino escreveu o seguinte belíssimo soneto chamado “Carpe Diem“:
Que faço deste dia, que me adora?
Pegá-lo pela cauda, antes da hora
Vermelha de furtar-se ao meu festim?
Ou colocá-lo em música, em palavra,
Ou gravá-lo na pedra, que o sol lavra?
Força é guardá-lo em mim, que um dia assim
Tremenda noite deixa se ela ao leito
Da noite precedente o leva, feito
Escravo dessa fêmea a quem fugira
Por mim, por minha voz e minha lira.
(Mas já de sombras vejo que se cobre
Tão surdo ao sonho de ficar — tão nobre.
Já nele a luz da lua — a morte — mora,
De traição foi feito: vai-se embora.)
Mas Horácio, em outra ode igualmente famosa, a 3.30, afirma que suas Odes sobreviverão às milenàrias pirâmides:
Erigi um monumento mais duradouro que o bronze,
mais alto do que a régia construção das pirâmides
que nem a voraz chuva, nem o impetuoso Áquilo
nem a inumerável série dos anos,
nem a fuga do tempo poderão destruir.
Nem tudo de mim morrerá, de mim grande parte
escapará a Libitina: jovem para sempre crescerei
no louvor dos vindouros, enquanto o pontífice
com a tácita virgem subir ao Capitólio.
Dir-se-á de mim, onde o violento Áufido brama,
onde Dauno pobre em água sobre rústicos povos reinou,
que de origem humilde me tornei poderoso,
o primeiro a trazer o canto eólio aos metros itálicos.
Assume o orgulho que o mérito conquistou
e benévola cinge meus cabelos,
Melpómene, com o délfico louro.
[Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam: usque ego postera
crescam laude recens, dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex:
dicar, qua violens obstrepit Aufidus
et qua pauper aquae Daunus agrestium
regnavit populorum, ex humili potens
princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos. sume superbiam
quaesitam meritis et mihi Delphica
lauro cinge volens, Melpomene, comam.]
A própria admiração que a ode continua a suscitar, parecendo confirmar o vaticínio de Horácio, aumenta essa admiração.
Ou seja, enquanto na ode 1.11 o poeta recomenda ignorar o futuro, na ode 3.30 ele exalta o futuro dos seus poemas.
Que haja uma contradição aqui não é nenhum problema. Diferentemente dos textos teóricos, os poéticos podem contradizer-se, ainda que sejam do mesmo autor, sem que, com isso, sofram o menor arranhão.
Se ambos forem bons, então, ao ler o primeiro, concordamos inteiramente com ele; ao ler o segundo, é com este que concordamos inteiramente, sem deixar de continuar a concordar com o primeiro. Ambos podem ser profundamente verdadeiros ou reveladores.
Um poema é capaz de contradizer a si próprio e ser uma obra-prima: ele pode até ter que se contradizer, como o “Odeio e Amo” (“Odi et amo”), de Catulo, para vir a ser uma obra-prima.
De todo modo, o poeta Haroldo de Campos escreveu um magnífico poema, intitulado “Horácio Contra Horácio”, que diz:
ergui mais do que o bronze ou que a pirâmide
ao tempo resistente um monumento
mas gloria-se em vão quem sobre o tempo
elusivo pensou cantar vitória:
não só a estátua de metal corrói-se
também a letra os versos a memória
— quem nunca soube os cantos dos hititas
ou dos etruscos devassou o arcano?
o tempo não se move ou se comove
ao sabor dos humanos vanilóquios —
rosas e vinho — vamos! — celebremos
o instante a ruína a desmemória
Não só, portanto, aos poetas é lícito contradizerem-se uns aos outros ou a si próprios, tanto em diferentes poemas quanto no mesmo poema, como tais contradições podem constituir o motivo de um poema.
Observo, porém, que a ode 1.11 pode também ser lida de modo que não necessariamente contradiga a ode 3.30.
Digamos que a concepção de poesia subjacente à ode 3.30 seja que, dado que o grande poema vale por si, ele é, em princípio, indiferente às contingências do tempo. Sendo assim, não se concebe um tempo em que tal poema venha a caducar.
Logo, mesmo reconhecendo a possibilidade de que os textos se percam, talvez a verdadeira razão do orgulho de Horácio seja o fato de que suas odes intrinsecamente merecem existir. Isso quer dizer que elas merecem existir AGORA.
E merecem existir agora, seja quando for agora: seja quando for que alguém diga ou pense: “agora”. É desse modo que, precisamente ao celebrar “o instante a ruína a desmemória”, o poema se faz eterno agora. Nesse sentido, apreciá-lo é colher o dia: “carpere diem”.
* * *
(*)Artigo do poeta Antônio Cicero foi originalmente publicado 6 de fevereiro de 2010, na coluna do autor na “Ilustrada”, da Folha de São Paulo.
Poeta romano Horácio
Quinto Horácio Flaco (latim: Quintus Horatius Flaccus – 65 a.C.-8 a.C.). Poeta lírico, satírico e filósofo latino. Horácio nasceu em Venúsia, Itália, no ano 65 a. C. Filho de um escravo liberto que exercia a função de cobrador de impostos, fez seus estudos em Roma onde foi aluno de Lucio Orbílio Pupilo. Aperfeiçoou seus estudos literários em Atenas.
Estabeleceu-se em Roma como escriba de questores. Foi amigo do poeta Virgílio, que o apresentou a Caio Mecenas que o levou para integrar os círculos literários, tornando-se o primeiro literato profissional romano. Cultivou diversos gêneros literários principalmente a ode, em que utilizou os moldes gregos. Procurou sempre imprimir um cunho nacional às suas produções.
Seu primeiro livro conhecido foi “Sátiras” (35 a.C.). Sua obra prima, são os três livros de poemas líricos, “Odes” (23 a.C.), complementados por um quarto volume escrito em 13 a.C. Gozou de grande prestígio junto ao imperador Augusto e para ele compôs “Carmem Saeculare” (20 a.C.), um hino epistolar de caráter litúrgico dedicado a Apolo e Diana. Sua poesia escrita em forma de sentença teve muitas delas transformadas em provérbios. Faleceu em Roma, Itália, no ano 8 a.C.
***